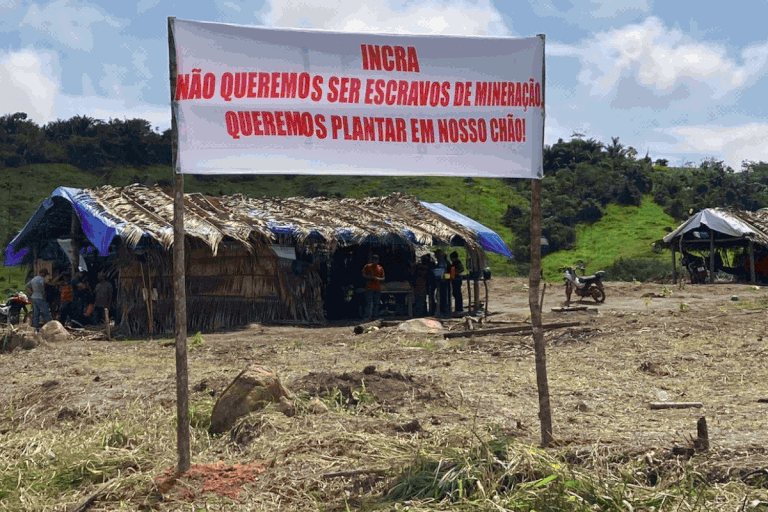A crise do trabalho e do emprego
Por Álvaro Kassab
Jornal da Unicamp
Assistimos no universo do trabalho ao advento de novas tecnologias e de áreas do conhecimento até então inexploradas. Ao mesmo tempo, observa-se o declínio das atividades chamadas de “chão da fábrica”, relegando a atividade industrial a um plano secundário, e o surgimento de atividades – algumas marcadas pela virtualidade – que fogem ao figurino do que se convencionou chamar de “emprego”. Que análise o senhor faz da centralidade do trabalho hoje?
Por Álvaro Kassab
Jornal da Unicamp
Assistimos no universo do trabalho ao advento de novas tecnologias e de áreas do conhecimento até então inexploradas. Ao mesmo tempo, observa-se o declínio das atividades chamadas de “chão da fábrica”, relegando a atividade industrial a um plano secundário, e o surgimento de atividades – algumas marcadas pela virtualidade – que fogem ao figurino do que se convencionou chamar de “emprego”. Que análise o senhor faz da centralidade do trabalho hoje?
Marcio Pochmann – Estamos diante de uma falsa disjuntiva que vem sendo colocada pelo pensamento dominante. Ela pressupõe o seguinte: que os trabalhadores aceitem os empregos possíveis gerados pela nova ordem econômica internacional ou, do contrário, a alternativa é o desemprego. De uma certa forma, a sociedade está um pouco paralisada diante desse falso impasse.
Guardada a devida proporção, vivemos um momento parecido com aquele registrado há 150 anos, quando o capitalismo sofreu uma profunda transformação com o advento da segunda revolução tecnológica. Entre outras novidades, foi introduzido o tear mecânico. Essa mecanização tornava o homem um apêndice do processo produtivo e oferecia, do ponto de vista técnico, uma jornada muito menor que a praticada no período.
Já era possível, por exemplo, o ingresso no mercado de trabalho a partir dos 15, 16 anos de idade. A nova tecnologia abria a perspectiva de uma profunda intensificação do trabalho com enormes ganhos de produtividade. Tecnicamente, era possível, por exemplo, uma jornada de oito horas por dia numa indústria têxtil de Manchester. Embora isso fosse factível, as jornadas eram de 16 a 18 horas por dia, com forte presença de crianças e adolescentes no interior das empresas.
Foi necessário um amplo movimento, que uniu as forças sociais, políticas, científicas e econômicas, bem como a grande Depressão de 1920, duas Guerras Mundiais e uma alternativa ao capitalismo liberal (Revolução Russa, em 1917) para que fosse aberta a perspectiva de transformar a possibilidade técnica em realidade. Chegou-se então a uma nova forma de organização do trabalho. A legislação e as convenções coletivas estabeleceram um patamar de relações de trabalho que irrompeu o século XX sustentado em jornadas de trabalho menores – de oito horas, por exemplo –, com ingresso no mercado a partir dos 15 anos de idade, sendo que os adolescentes antes dessa faixa etária passaram a ter acesso à educação universal. Os trabalhadores conquistaram também, a partir de 30-35 anos de trabalho, os benefícios da aposentadoria.
Fiz essa digressão para chamar a atenção para o fato de que também estamos vivendo um momento de profunda mudança na base técnica. Estamos ingressando num capitalismo pós-industrial em que a produtividade é cada vez mais sustentada no trabalho imaterial. Estamos falando de atividades do setor terciário, não mais fortemente vinculadas ao setor agrícola, pertencente ao segmento primário, e as atividades secundárias – como a indústria, por exemplo.
São atividades em que a organização do trabalho é muito diferente. Não é mais o relógio que organiza decisivamente o tempo de trabalho. Estamos diante de uma outra forma de organização, já que o trabalho imaterial está submetido a um regime de maior intensificação. Passamos a conviver, por exemplo, com novas doenças profissionais que são evidentemente situações de agravamento desse estado de coisas.
Entretanto, continuamos discutindo as condições de trabalho ainda como herdeiros do capitalismo do século XX. É preciso considerar que estamos diante de uma nova possibilidade técnica de organização do trabalho, com jornadas diárias de quatro horas por três dias por semana, com ingresso no mercado de trabalho somente a partir dos 25 anos de idade. Antes disso, a pessoa deve ser totalmente integrada a uma educação que deve ser recebida ao longo de toda sua vida, diante da complexidade da sociedade contemporânea. Ademais, estamos próximos também de chegar a uma longevidade que vai bater ao redor dos 100 anos de idade, não mais nos 70 anos atuais ou – como era há um século – de 40 anos.
Do ponto de vista técnico, portanto, já é possível falar dessa nova condição do trabalho. Por conta disso, não pode continuar prevalecendo a falsa disjuntiva colocada pelo pensamento neoliberal – e da qual nos tornamos prisioneiros –, composta pela opção entre precarização e desemprego. É plenamente possível que todos trabalhem. Evidentemente que a centralidade do trabalho permanece como um elemento de organização da vida humana, mas, hoje, com uma temporalidade muito menor.
No século XIX, alguém que vivia em média 40 anos começava a trabalhar aos 5, 6 anos de idade na agricultura. Essa pessoa trabalhava de 14 a 16 horas por dia, até morrer. Nessa sociedade agrária, o trabalho centralizava 70% do tempo de vida. Na sociedade urbana e industrial do século XX, a centralidade do trabalho, do ponto de vista do seu tempo, é menor, já que estamos falando de alguém que vai trabalhar a partir dos 15, 16 anos de idade, continuará no ofício até os 60/65 anos e depois ainda viverá mais de 5 a 15 anos de inatividade, tendo trabalhado oito horas por dia. O tempo de trabalho, para alguém que tenha vivido em média 70 anos, deverá representar alguma coisa como 45% do tempo de vida.
Na sociedade pós-industrial, se a história nos serve de referência, podemos pensar que o trabalho deverá representar alguma coisa em torno de 20 a 25% do tempo de vida de alguém que possivelmente viverá 100 anos, ingressará no mercado de trabalho a partir dos 25 anos e trabalhará talvez até os 75 anos de idade. Sua jornada poderá ser de quatro horas diárias durante três dias por semana.
Isso pode parecer alguma coisa fora do horizonte, mas é uma utopia plenamente possível de ser admitida na medida em que a gente olha a história do trabalho sob o capitalismo e percebe esses avanços. É claro que essa possibilidade técnica só será possível se houver evidentemente uma concepção de que isso é factível, se houver pressão social e uma articulação política, econômica, social e científica em torno dessa nova questão do trabalho. Não tenho dúvida de que a gente pode marchar para essa sociedade superior.
Ricardo Antunes – É importante destacar que o mundo do trabalho, não só no Brasil, mas em escala global, não é hoje unitendencial, mas politendencial ou multitendencial. Os teóricos do fim do trabalho, essa tese unidimensional de meados dos anos 1980, equivocaram-se ao dizer que o trabalho estava em vias de desaparição.
Para mostrar o equívoco cabal dessa tese, o país que mais cresce hoje em termos capitalistas, em escala global, é a China. Ela tem uma força de trabalho de mais de 800 milhões de pessoas, o que permite o rebaixamento da remuneração da força de trabalho a um nível antes inimaginável.
O nível de degradação é tão grande que a força de trabalho brasileira é considerada cara se comparada à chinesa. A China adiciona um mercado interno imenso, além de ter uma penetração ampla no mercado global. Possui também estrutura de empresas em rede, com um nível técnico-informacional razoavelmente desenvolvido e em expansão. Ficou para trás o tempo em que a China estava na retaguarda. Hoje, ela emerge como uma potência, inclusive no plano das tecnologias avançadas.
Tudo isso fez com que passássemos a ter um desenho muito multifacetado. O setor de serviços se mercadorizou. É natural que ele tenha assalariado um novo e enorme contingente de força de trabalho. O telemarketing é um exemplo. No Brasil, o setor emprega 600 mil pessoas, sendo que 70% dessa força de trabalho ou mais é feminina. Os serviços se sujeitaram à lógica da acumulação. Não existem mais aqueles serviços públicos que preservavam certos níveis de bem-estar social; eles foram quase todos privatizados. A telefonia brasileira é exemplar nesse contexto.
Por outro lado, não acredito que a atividade industrial tenha sido relegada a um segundo plano. É preciso tomar cuidado. O que aconteceu é que ela foi inteiramente reelaborada. Não há país hoje que não tenha uma mescla de serviços com a indústria – daí vem a expressão serviços industriais. Há uma imbricação importante. Acabou a chamada teoria dos três setores – agricultura, indústria e serviços. Hoje se tem uma coisa muito mais interpenetrada – por exemplo, a agroindústria, que encanta tanto o lulismo.
Na medida em que houve mais interpenetração do que setorialização, a classe trabalhadora esparramou-se. Você encontra trabalhadores industriais na Honda ou na Toyota, na região de Campinas. Acontece que não é mais aquela planta taylorista e fordizada em que havia, num passado recente, com milhares de trabalhadores. As unidades são enxutas. O maquinário técnico-operacional é avançado e a estrutura das empresas é menor e espraiada em um sistema de redes e contratadas.
Com essa estrutura em rede, além da redução dos custos das empresas, os capitais buscam fraturar a organização de classe dos trabalhadores. Registrou-se uma retração do proletariado industrial taylorista e fordista, e uma ampliação das múltiplas formas de assalariados. A indústria tem peso, mas ela está na imbricação com os serviços, com a agricultura e com o setor financeirizado. É importante lembrar que a financeirização não existe sem lastro material.
Num plano mais geral – imprescindível, porém –, falar no fim do trabalho é, no limite, insustentável. Se eu tiver uma concepção ampliada de trabalho, como sinônimo de atividade humana vital, todas as formas de sociabilidade humana, desde o passado mais remoto até as projeções mais longínquas, estão a ele associadas. Num plano ontológico, a humanidade não pode reproduzir-se sem trabalho, aqui entendido como atividade vital que produza bens socialmente úteis.
Eu diria que sua centralidade hoje se coloca em vários planos. Primeiro: uma tendência prevalente a não se ter mais o trabalho de que falava Taylor – manual e físico. Estamos numa uma era em que o trabalho passa a ser gerador de valor nas suas múltiplas facetas. O dado novo são aqueles trabalhos que trazem dentro si níveis de informação – certos nexos de trabalho intelectual e até mesmo imaterial – que passam a agregar valor.
É sintomático que o slogan da fábrica da Toyota, na cidade japonesa de Takaoka, seja “bons pensamentos significam bons produtos”. Um traço importante é que o capital supriu a crise da indústria taylorista e fordista a partir de uma nova engenharia produtiva, chamada empresa flexível, liofilizada, que reduz muito mas não pode viver sem alguma modalidade de trabalho humano vivo.
Entretanto, aquele trabalhador que nela permanece labora em todas as dimensões, manual e intelectual, física e cognitiva. As empresas o chamam de “parceiros, colaboradores e consultores”. São formas falaciosas que passam a idéia de que ele é um partícipe, um sócio, um parceiro.
Para compreender a nova centralidade no mundo do capital, é preciso entender também o papel desempenhado por aquele trabalho mais dotado de tecnologia de informação. Ele é relativamente mais intelectualizado – não no sentido de uma intelectualidade plena – mas que atua de modo relevante na criação de mercadorias. Como vivemos uma era simbólica, a era involucral do capitalismo, cada empresa precisa ter uma marca. Ampliam-se também os proletários do trabalho de tecnologias informacionais, o que Ursula Huws chamou de cybertariado, o novo proletariado da era da cybernética. É preciso entender que a lei do valor hoje carece dessa nova morfologia presente no mundo do trabalho.
A massa de desempregados é outro pólo muito importante. A OIT fala em 195 milhões, mas penso que seja muito mais do que isso. A contabilização real do desemprego da China e da Índia, por exemplo, deve ser bastante desconhecida. Ademais, as estatísticas não levam em conta o desemprego por desalento – aquele indivíduo que não procura mais trabalho porque desistiu – e nem aquele que trabalha precariamente algumas horas por semana. Existem formas que acabam escondendo o desemprego, que é mais amplificado.
Por fim, só posso entender por que existe esse conjunto de desempregados a partir da centralidade do trabalho. É no mundo da criação do valor que é possível precarizar, desempregar e mesmo “excluir”. Trata-se de um conjunto imenso de seres sociais que se incluem pela via da exclusão. Como há um excedente imenso de força sobrante de trabalho, os capitais levem a remuneração da folha a um nível muito baixo. As condições de trabalho, por sua vez, quando se pensa nas maiorias, são cada vez piores.
As indústrias automobilísticas européias, por exemplo, estão ampliando a jornada de trabalho, ao contrário de uma tendência que já vinha sendo vivenciada há várias décadas. Estão depauperando a classe trabalhadora, processo que atinge inclusive seus extratos mais altos. Por isso que venho defendendo a tese de que já vivemos a era da precarização estrutural do trabalho.
Mais: vivemos uma contradição visceral. A era da informatização, ou seja, do mundo informacional, maquinal, digital, corresponde à época da informalização do trabalho. Quando poder-se-ia esperar que um melhor aparato técnico-científico pudesse melhorar as condições do trabalho, nós estamos presenciando o oposto, porque a lógica técno-científica é movida pelos interesses destrutivos do capital. Por isso, em vários setores, o trabalho está se tornando quase virtual. Mas é preciso compreender seu significado para o capital e o papel desempenhado nos últimos anos pela China e pela Índia mostra que é insustentável a tese de que o trabalho é irrelevante para a criação do valor.
Qual o papel do trabalhador brasileiro nessa nova configuração?
Marcio Pochmann –Historicamente, assumimos uma desvantagem por força do atraso a que se foi relegada pelo conjunto de erros de nossa elite. Fomos montar automóvel quase 70 anos depois de ele ter sido inventado. Este atraso nos impôs conseqüências, já que sempre fomos um país da periferia do capitalismo. De uma certa maneira, estamos vivendo neste início de século uma oportunidade singular. Isso porque, se é verdade que estamos diante de uma revolução tecnológica que altera a base técnica do capitalismo e impõe conseqüências na própria organização do trabalho, inegavelmente esta é a primeira vez que o Brasil está muito próximo – diria que até participando – deste momento de mudança na base técnica.
Na primeira revolução tecnológica, no século 18, o Brasil era colônia de Portugal. As novidades protagonizadas pela Inglaterra passaram muito distantes do Brasil. Na segunda revolução tecnológica, no final do século 19, a indústria automobilística, o motor a combustão, o petróleo, o telefone etc, também passaram muito longe de nós. Estávamos à época envolvidos com o anacronismo do trabalho escravo e fazíamos – sem ruptura – a passagem do Império para a República. Lamentavelmente, ficamos para trás.
Hoje, o Brasil tem uma base de pesquisa que está longe do ideal, mas é algo que nós nunca tivemos quando analisamos sob uma perspectiva histórica. Temos universidades, laboratórios e centros de pesquisas que não deixam a desejar em relação a centros do primeiro mundo. Temos uma base de qualificação da mão-de-obra que está em plena condição de participar dessa transformação tecnológica, seja o trabalhador um pesquisador ou operador.
Se olharmos algumas áreas, como por exemplo, os campos da biotecnologia, da pesquisa e de matriz energética, podemos identificar importantes oportunidades que o Brasil pode ou não aproveitar. Temos hoje uma chance que não tivemos no passado.
Entretanto, Celso Furtado sempre lembrava que o Brasil é o país das oportunidades perdidas… Estamos completando 22 anos de democracia e não há em quem colocar a responsabilidade. Não temos mais o regime militar, o anacronismo do trabalho escravo, o colonialismo. O negócio agora depende do povo, de sua elite, para que seja dado o salto de qualidade, como outros países aliás vêm fazendo.
É constrangedor saber que, em duas décadas de democracia, o país continuou marcando passo. A democracia apresentou um conjunto de proposições que não foram cumpridas. Perdemos posições em relação a muitos países que conseguiram avançar de forma significativa.
Ricardo Antunes O Brasil seguiu o caminho mais trágico. Nós nascemos como apêndice do mundo mercantil europeu. Os portugueses e os espanhóis vieram para a América Latina, destruíram as comunidades indígenas, introduziram o trabalho escravo e criaram colônias de exploração, processo que avançou por vários séculos.
Foi com o getulismo, a partir de 1930, por meio de um processo complexo, que o Brasil começou a estruturar com um desenho industrial nacional. Começou a ser gestada uma indústria de base, com siderurgia, petroquímica etc. O papel do Estado foi importante nesse processo. Desenhou-se pela primeira vez uma sociedade denominada “nacional-desenvolvimentista”.
Com o golpe de 64, houve uma segunda mutação importante. A primeira ocorreu com Juscelino, que de certo modo preservou o modelo desenvolvimentista, mas abriu uma cunha internacionalizadora muito grande com a indústria automobilística. A ditadura militar investiu no destrutivo, ampliando fortemente a inserção do capital privado internacional, sem fazer definhar o setor produtivo estatal.
Com Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e a continuidade do governo Lula, o setor produtivo estatal foi desestruturado. A Companhia Siderúrgica Nacional, por exemplo, é hoje uma grande transnacional, uma das maiores do mundo. Ela foi vendida como moeda podre, como o foi em grande medida as empresas privatizadas fundamentalmente sob o governo Fernando Henrique Cardoso.
O Brasil, a partir dos anos 90, inseriu-se no mundo produtivo global pelo pior caminho – sendo uma espécie de fornecedor em algumas áreas industriais e de serviços relevantes. Somos um continente imenso marcado por uma industrialização relativamente tardia, com um mundo rural bastante desestruturado. Nós não tivemos uma reforma agrária que modernizasse a estrutura rural brasileira. Nossa modernização agrária veio pela via conservadora, preservando a estrutura concentrada da terra.
Quando o neoliberalismo e a reestruturação produtiva – duas peças do mesmo complexo – aqui foram implantados, fez-se o desastre. A reestruturação alterou profundamente o mundo da materialidade – empresa enxuta, concentração, oligopolização, monopolização, sob o comando da financeirização. Já o neoliberalismo criou esse ideário e pragmática de que era preciso privatizar e “modernizar”. Privatizou-se tudo. Até o setor bancário, que era estatal e nacional, hoje é menos estatal e muito menos nacional.
Então nós nos inserimos como uma ponta do cenário internacional. O que eles esperam da gente? Em certo sentido, o que se passa agora com o agrobusiness é a expressão. É quase que uma regressão neocolonial. Imagine o país incendiando canaviais…O que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva apagou muito rápido da sua memória é que nos canaviais laboram homens, mulheres e crianças em condições indignas de semi-escravidão. Sabemos que os trabalhadores cortam 12 toneladas por dia ou mais, aqui no Sudeste, freqüentemente burladas e fraudadas pelos usineiros. São 9 mil, 10 mil podadas por dia, que levam ao destroçamento do corpo laborativo.
Vamos fazer do Brasil um país de canaviais. Para quê? Para aumentar o aquecimento global e o assalariamento mais primitivo da classe trabalhadora? Esse tem sido o caminho de nossa inserção no mundo global. E, nessa via, a lógica é destrutiva.
Depois desse desmonte, é evidente que as condições de penúria da classe trabalhadora são imensas. Bastaria dizer que temos hoje mais de 50% dos trabalhadores na informalidade e os capitais querem mais. Sem contar que na concorrência chinesa e indiana no setor têxtil, de calçados e em tantas outras áreas, nós estamos em condições desfavoráveis.
O Estado vem tendo seu papel reduzido, quando não questionado. Conquistas históricas são colocadas à prova ou suprimidas – sobretudo na área do bem-estar social – sob o pretexto da criação de novos postos ou, em última instância, de uma “flexibilização” de regras que vigoraram durante décadas. A que o senhor atribui essa reestruturação produtiva e em que medida ela determina a supremacia do mercado sobre o Estado?
Marcio Pochmann – Estamos submetidos a uma cegueira situacional. O Brasil abandonou a perspectiva do planejamento estratégico e o diálogo com o futuro, ficando prisioneiro do curtíssimo prazo. Isso nos impõe à lógica de financeirização da riqueza e, por conseqüência, a dualidade da flexibilização rumo à precarização ou ao desemprego.
É claro que se a análise for feita sob o ponto de vista histórico, a Revolução de 30, por exemplo, representou uma frente política que tinha uma diversidade ideológica – de visões fascistas a comunistas. Mas havia o consenso de que se tratava de um grupo, a despeito das diferenças, que buscava uma sociedade muito diferente daquela na qual encontrava-se o Brasil no período. Nosso ponto de partida, então, deu-se numa sociedade muito anacrônica.
Em um período relativamente curto, de três a quatro décadas, a sociedade brasileira deu um salto muito grande e modernizou-se. De 1930 a 1980, constituiu-se uma classe trabalhadora pujante. Consolidamos uma classe média assalariada relevante, a despeito das desigualdades e de não termos feito muitas das reformas executadas pelos países capitalistas civilizados, entre as quais a agrária e a tributária. Não fundamos também as bases de um sólido Estado de bem-estar social.
No período mais recente, aceitamos uma posição inferior. Estamos acomodados à subordinação nessa nova divisão do trabalho. Ela coloca, de um lado, o trabalho de concepção, criativo, relacionado às novas tecnologias – o trabalho imaterial, de maior remuneração – e, de outro, o trabalho de execução, mais simplificado, precarizado, de menor remuneração. Frente a essa nova divisão, cada país vai fazendo sua escolha. Assim como o Brasil decidiu se industrializar nos anos 30. Era esse o caminho que viabilizava a consolidação de uma classe trabalhadora, de uma classe média, de uma sociedade mais moderna.
Hoje, de uma certa maneira, o país se encaminha para uma situação mais próxima do trabalho precário. Não estamos dando um salto de qualidade. Não estamos ingressando nessa fase de trabalho de concepção, de combinar tecnologias com investimentos, bens públicos com privados. Isso nos permitiria desenvolver o trabalho criativo e imaterial. Será ele que nos fará ter melhor remuneração e maior ganho de produtividade.
Ricardo Antunes – A competitividade global de hoje nasceu sob a égide da reestruturação produtiva e do neoliberalismo. Hayek, Friedman e outros diziam muito claramente que o Estado é o caminho da servidão. E qual o caminho da libertação, para esses ideólogos? O mercado.
E, para eles, quem são os inimigos do mercado? Os sindicatos, a “corporação do trabalho”, como eles diziam. Nesse ideário, o Estado deve ser profundamente alterado, deve-se instaurar um estado todo privatizado. Ele deve abandonar toda a sua atividade que prevê – e provê – educação pública, previdências, direitos, rede de proteção social do trabalho etc.
Prega a transferência para o setor privado de tudo o que for passível de interesses mercantis. Estamos numa época em que até as cadeias são administradas pelas empresas. Nos Estados Unidos, isso já é uma tendência – é possível tirar lucro do cárcere, dos hospitais, das escolas. Educação hoje é um negócio. A escola não é mais concebida como um valor decisivo para a educação da humanidade.
Não concordo com essa tese de que o papel do Estado desapareceu. O que aconteceu é que o Estado se privatizou. De tal modo que o imperativo crucial nos dias de hoje é desprivatizar o Estado. Um exemplo cabal disso é que os Estados hoje convivem com banco centrais que controlam, por uma lógica exclusivamente financial e privatista, as políticas econômicas e monetárias.
Num país onde são muitas as carências como é o caso do Brasil, o que cabe ao Estado? Em que medida a formulação de políticas públicas pode atenuar um quadro que combina informalidade, precarização da mão-de-obra, fuga de cérebros, forte desregulamentação e explosão do desemprego em áreas metropolitanas? O que pode ser feito?
Marcio Pochmann – Não é possível dar um passo rumo à modernidade sem que o Estado esteja presente. Precisamos resgatar a agenda que o movimento de redemocratização nacional apresentou ao país a partir dos anos 1970 e no início da década de 1980. A tese da reforma do Estado foi basicamente apropriada pelo pensamento conservador. Exemplo: quando se fala nela, o que se imagina é a sua redução – fala-se em corte de gastos, Estado inchado, incompetente, coisas desse tipo.
É fundamental ter um Estado com capacidade de lidar com as questões da “velha pobreza”, associando-as às novas questões colocadas hoje. É preciso implementar uma reforma administrativa que dê conta dessa nova realidade. O Brasil, nos últimos 25 anos, perdeu 2,5 milhões funcionários públicos. Quinhentos mil deles foram engolidos pela privatização – houve a transferência de 15% do setor produtivo estatal para o setor privado. Cerca de dois milhões de postos desapareceram em razão da terceirização e da racionalização privatista do setor público.
Hoje, o Brasil tem uma incapacidade enorme de implementar um planejamento. A situação do Estado de São Paulo é emblemática. Basta ver o que acontece com empresas como o Metrô, por exemplo, que já foi referência em engenharia na América Latina. O problema da cratera demonstrou justamente a perda de eficácia da empresa – não havia sequer um engenheiro para fazer um laudo técnico.
Houve, inegavelmente, uma degradação do Estado brasileiro, do seu corpo de funcionários. Se o país quiser ter uma regulação pública adequada, se quisermos ter capacidade de planejamento, o Estado tem de ser recuperado. É preciso estar atento – e atuante – aos desafios do século XXI.
O movimento de redemocratização nacional chamava a atenção para o fato de que o governo da ditadura militar já havia privatizado o espaço público. Essa é uma questão que merece ser destacada. A sociedade brasileira, até o início dos anos 1960, tinha um espaço público que hoje está muito reduzido. Ele foi apropriado pelo privado. A sociabilidade está sendo construída dentro dele. A começar pelo shopping center, que hoje é onde as pessoas podem caminhar com uma certa segurança. Entretanto, na década de 1960 a população tinha a opção do passeio, da praça pública. As pessoas caminhavam, andavam nas ruas. Nós perdemos essa característica. Parte dessa distorção é decorrente da ditadura militar, cujo período foi marcado pela privatização do Estado.
A redemocratização nacional não conseguiu recuperar isso. Acredito até que houve um avanço muito grande da ideologia mercantil. Isso cria uma crise de reprodução social. Estamos convivendo hoje com ela. Não conseguimos dar uma resposta que se imaginava e se pretendia. Fico muito preocupado – o país não tem cultura democrática. Em mais de 500 anos de história, não temos 50 anos com democracia com voto universal. Trata-se de uma questão de fundo. Ela está colocada como desafio para todas as gerações que vivem este momento e para aquelas que estão por vir.
Ricardo Antunes – Aquela idéia de que podemos voltar ao Estado keynesiano, forte e regulado, passou a ser parte da história. Se nos países escandinavos, na Alemanha e na Inglaterra, para ficar em alguns exemplos, isso sofreu um processo de corrosão, no Brasil, que sempre teve pouca tradição, foi pior. O capitalismo conseguiu sepultar essa tese nas última três décadas.
Isso coloca uma questão mais profunda. Há dois modos de fazer políticas públicas sociais hoje. Dentro do neoliberalismo ou, na melhor das hipóteses, dentro do social-liberalismo, que tanto encantou Tony Blair e outros. Neste último caso, é uma mescla de neoliberalismo com um verniz socialdemocrático bastante desgastado.
Essa política mais focada serve apenas para atenuar os problemas de bolsões onde a desintegração e o esgarçamento do tecido social chegaram a um nível insuportável. O Bolsa-Família é um exemplo dessa política. Atinge aqueles que estão nos bolsões do desemprego e da informalidade e precisam de um quantum para poder sair do nível letal.
Entretanto, seria possível também pensar em políticas públicas antineoliberais. São Estados dotados de força e densidade social e popular que utilizam a força política em benefício das maiorias, ainda que sob a uma forma minimizadora da barbárie. O que a imprensa e setores da intelectualidade chamam freqüentemente de “populismo” na América Latina (na minha opinião, uma categorização absolutamente insuficiente).
Por exemplo: quando o governo Chávez, no início de seu primeiro mandato, obstruiu a privatização da estatal petrolífera venezuelana, impedindo que a grande riqueza do país, que é o petróleo, caísse nas mãos de uma oligarquia e dos interesses norte-americanos, isso é uma política pública claramente antineoliberal. Por isso a imprensa em geral, que é privatista em grande medida, apresenta Chávez como uma figura grotesca. Já Lula vergou-se facilmente aos grandes interesses.
Quando Evo Morales decidiu nacionalizar o gás, houve uma grita no Brasil. Era o mínimo que ele podia fazer, até porque a maioria do povo boliviano, que o escolheu, clamava por isso. Eles queriam a nacionalização. Quando Morales implementou a medida, encontrou na Petrobras uma transnacional como qualquer outra. A empresa estava ávida de saques. Sua pauta era a mesma de outras transnacionais.
Com isso, quero deixar claro que não é qualquer política que pode contraditar. É preciso um Estado que tenha alto respaldo popular. Do contrário, o Estado pode tomar como políticas públicas essas medidas focalizadas, implementadas apenas para minimizar os bolsões, que tanto agradam o Banco Mundial e o FMI. Na verdade, o desafio dos governos venezuelano, boliviano e equatoriano, para ficar em três experiências recentes, não é minimizar os bolsões, mas sim resgatar a dignidade, as condições de vida e a riqueza de seus países em beneficio dos seus povos.
O Estado é um ente político que, sob pressão popular, pode ajudar a contraditar essas tendências tidas como inevitáveis, mas não o são. Se elas fossem inevitáveis, a política estaria completamente colonizada e desertificada, e o mercado dominaria tudo. Mas é preciso compreender as múltiplas formas de resistência, que ocorrem onde há força e impulsão popular.
Vejamos a questão da flexibilização. Nós vamos flexibilizar para tornar a nossa classe trabalhadora mais empobrecida e mais fragilizada, ou nós vamos dizer que o nível de exploração tem limite? A política pública neoliberal vai dizer que precisa flexibilizar para gerar mais emprego. Pura mistificação. Até porque o que gera emprego é outra coisa. Como as tecnologias são poupadoras de força de trabalho, pode haver muito crescimento sem o equivalente crescimento do nível de emprego.
Fala-se, também, que o grosso da mão-de-obra do país está empregado em funções cujos produtos delas decorrentes têm baixo valor agregado e, portanto, não são competitivos num mercado cada vez exigente. Critica-se da mesma forma o fato de investirmos pouco em inovação tecnológica. Afinal, qual é a vocação do país?
Marcio Pochmann –Estamos diante de uma agenda que nos apequenou. Não há um planejamento que indique qual a sociedade que pretendemos ter daqui a duas décadas. Quando, por exemplo, fica estabelecida em 1943 a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), vê-se que ela foi feita basicamente para um conjunto reduzido de trabalhadores. A maior parte deles morava no campo e a carteira de trabalho era algo muito distante. Entretanto, três décadas depois, já estamos falando de uma sociedade majoritariamente assalariada e com carteira assinada. Ou seja, houve a construção de um ideal de uma sociedade, dentro de uma visão de futuro. Perdemos isso atualmente.
Determinadas oportunidades vêm nos empurrando para uma sociedade mais primitiva. Vejo, com espanto, as declarações de lideranças políticas e empresariais, que estão impressionados com o que eles denominam de novo ciclo da cana-de-açúcar, já que o país é um dos poucos que tem capacidade de dobrar a área plantada. Trata-se de um ufanismo invertido. O Estado de São Paulo, cuja vocação é industrial, é responsável por 70% da cana no país. Isso é uma distorção. Estamos voltando à condição de produtores de bens primários.
Essa opção nos tira a possibilidade de aproveitar o melhor que a mudança de base técnica nos oferece. E isso precisa ser feito antes que surja um forte movimento de monopolização. Em 1890, por exemplo, na transição do Império para a República, Rui Barbosa – um industrialista – estava muito envolvido na tentativa de formar um partido republicano que pudesse ter como convergência nacional a industrialização. Ele não foi capaz de constituir esse movimento. Qual foi a alternativa criada? A política de “café com leite”, movimento dos governadores que enfraqueceu o Estado nacional e fortaleceu as oligarquias.
Se o Brasil tivesse se industrializado no final do século XIX, como o Japão o fez, quando a tecnologia ainda não estava monopolizada, a história seria outra. Havia, por exemplo, várias possibilidades de construção de automóvel. Porém, já início do século XX, a tecnologia já estava monopolizada pelo padrão fordista.
Se consideramos que hoje uma nova base técnica está sendo introduzida, apropriar-se das tecnologias produzidas por ela para integrar-se no sistema produtivo é relativamente mais fácil, já que elas ainda não estão monopolizadas. Mas, o debate na Organização Mundial do Comércio hoje já está centrado na propriedade intelectual. Evidentemente que, daqui a alguns anos ou décadas, as novas tecnologias estarão monopolizadas. Seu uso se tornará mais difícil e será subordinado aos interesses daqueles que as detêm.
Ricardo Antunes –A vocação que nos ensinaram a ter é aquela que nasceu com a nossa gênese colonial. Nosso papel é servir para fora. É evidente, porém, que esse papel nos foi introduzido inicialmente pelas burguesias mercantis que para cá vieram. Depois, outras se sucederam.
O nosso desafio é caminhar numa direção muito diferente. Nós temos um mercado interno imenso. Nossa força de trabalho chega a 80 milhões de pessoas. Temos terra e riquezas minerais, água etc. Não podemos colocar esse manancial a serviço do saque dos capitais globais. Nós teríamos de ter uma vocação por meio da qual a nossa produção contemplasse primeiramente as necessidades fundamentais do nosso povo.
Posso exemplificar com essa pergunta: produzir etanol ou produzir alimentos para a população? O mercado interno formado pelo mundo do trabalho no Brasil, uma vez qualificado, fortalecido e dignamente remunerado, seria propulsor dessas necessidades úteis e vitais.
A primeira medida seria, portanto, inverter completamente esse modo de conceber a produção, desde nossa gênese voltada para a sucção forânea. Sessenta por cento da riqueza do Brasil vai para fora. Isso faz sentido? Pode-se argumentar que o país estaria remando contra a globalização. Mas é claro. Essa globalização é dos capitais, das transnacionais e da mercadorizacão do mundo.
É lógico que não é possível fazer isso isoladamente. Mas basta ver o esforço da Venezuela, Equador, Argentina e Bolívia para saber que é factível. Chávez sabe que a Venezuela sozinha não conseguirá fazer muita coisa, mesmo porque o país não tem indústria, nem serviços e nem agricultura fortes. E o que ele fez? Promoveu a criação de cooperativas para produção de alimentos. Estive recentemente duas vezes na Venezuela e vi um processo de auto-organização popular muito interessante. Volta a ser pauta da agenda de um país latino-americano a questão do socialismo no século XXI.
Nesta contextualidade, é triste ver o Brasil ser colocado como posto de ancoragem do Bush. Quer ser uma esquerda mais palatável – a esquerda da era das commodities e do etanol. Lula sonha com o papel de tertius. Trata-se de mais um sonho que nem os espelhos serão capazes de retratar. Lula não é nem Chávez nem Bush. Ele quer tirar vantagem dos dois. Ele não quer nem a direita mais dura nem a esquerda mais vigorosa.
A posição do Brasil tem sido tão pífia que quando o Kirchner, anos atrás, determinou o não-pagamento da parcela privada da dívida externa argentina, o Brasil não se dignou a fazer sequer um telefonema, nada por não desagradar o Fundo Monetário Internacional. O governo Lula renunciou a esse papel de ajudar a formar um bloco para sair do isolamento.
Como se pode falar em inovação tecnológica, quando as grandes transnacionais a fazem nos países centrais? Aceitamos esses pacotes prontos das transnacionais, não temos acesso às suas tecnologias. Seguindo o receituário neoliberal, os governos, na última década e meia, desmontaram os núcleos autônomos de pesquisa, de tal modo que hoje nós dependemos também da propriedade intelectual produzida nos países centrais. Aqui, a política dos governos é de dilapidação das universidades públicas. Elas são, junto com os institutos públicos, alguns dos setores importantes da pesquisa científica nacional mais livre e por isso vivenciam uma escassez imensa de recursos.
Temos que pensar numa inversão. Isso implica em indagar: que sociedade nós queremos? A questão é fulcral. Nós queremos 1) preservar a sociedade capitalista na sua variante destrutiva?; 2)nós imaginamos que seja possível criar um capitalismo justo, belo, onde todos vivam segundo as regras das mesmas “oportunidades” – um sonho dourado numa noite de inverno; e 3) ou nós temos de pensar num novo tipo de sociedade, num novo modo de organização societal, num novo sistema de metabolismo societal que nos coloque para além do capital?
Isso nos obriga a pensar o que será – ou poderia ser – o socialismo no século XXI. No passado recente, essa questão era vista como utópica. Hoje, entretanto, existem governos, partidos e movimentos sociais que pregam essa mudança. As reuniões de todos os fóruns sociais mostram que outro mundo é possível. Este é o desafio crucial. Não parece crível que o mundo atual seja o “fim máximo da história”. Estamos desafiados a pensar quais são esses caminhos novos.
Qual o peso da política econômica na geração de empregos e no mundo do trabalho? Com o senhor analisa o caso brasileiro?
Marcio Pochmann –A política econômica é determinante. O emprego não é uma variável indeterminada, que pode ser estabelecida a partir da vontade própria. O emprego está associado diretamente ao comportamento mais geral da política econômica. É ela que define as possibilidades de maior ou menor demanda da força de trabalho.
Constatamos que, nas últimas décadas, essa política perdeu o compromisso com o crescimento econômico. Ela é basicamente a expressão de um consenso em torno do combate à inflação. Os resultados dessa opção favorecem muito poucos. Culminam numa economia de baixa produtividade em que os principais resultados do excedente terminam sendo financeirizados e apropriados por uma elite.
É inimaginável acreditar que o país possa dar um salto de qualidade com a essa política macroeconômica adotada hoje. Ela é expressão de uma agenda amesquinhada. O país não pode ter como objetivo a inflação baixa, que é um condicionante do bem-estar social. Cabe registrar que a inflação, desde a segunda metade da década de 1990, praticamente desapareceu do mundo.
Acredito que não seja um problema técnico, do tipo “o que pode ser feito na política macroeconômica?”. Já é sabido o que é preciso ser feito. A pergunta é: por que não se faz? Na minha opinião, há um constrangimento de ordem política. Não há uma nova maioria que coloque a questão do desenvolvimento econômico-social como prioridade. Não se construiu uma frente política que pudesse dar sustentação à mudança. De maneira geral, nas últimas eleições presidenciais, o voto da população tem sido de protesto. O eleitor quer reformas. Embora os discursos em geral tenham pregado mudanças, elas não têm ocorrido.
Volto à questão do movimento de redemocratização nacional. O processo dele derivado não conseguiu oferecer uma base política necessária para que fosse dado um salto de qualidade. Nós temos hoje uma fragmentação. É lógico que vários segmentos têm projetos e base política, mas eles são insuficientes e incapazes, especialmente porque essa sociedade que construímos nas últimas duas décadas é muito diferente daquela que produziu o movimento pela redemocratização. Estou falando de uma sociedade que se estruturou em torno da industrialização e da urbanização.
Hoje, observamos o desmonte dessa mesma sociedade. Constatamos o enxugamento da classe média, o esvaziamento da classe trabalhadora e um imenso inchamento de um segmento que pode ser classificado como de agregados sociais ou de “desclassados”. São segmentos inclusive que não constituem uma base política necessária para que possa ser feita uma mudança radical na política macroeconômica. Sem base política, é possível que continuemos mais tempo reféns desse quadro que, na minha opinião, é de regressão econômica e social.
Ricardo Antunes –No plano mais geral, o capitalismo vem crescendo sem gerar emprego. Isso é para não termos mais a ilusão desenvolvimentista do Estado keynesiano dos anos 40 e 50. Há um segundo plano, mais imediato, que também considero importante: como no mundo atual a lógica é agudamente destrutiva, é evidente que uma política econômica, que de algum modo contradite essas tendências, pode minimizar o desemprego. E isso é positivo, dada a amplitude do flagelo.
Se o Brasil tivesse uma política econômica que não fosse totalmente pautada nos juros altos, no superávit primário e nessas medidas que marcam esse receituário que vem desde o Consenso de Washington, é óbvio que ela teria repercussão no plano do emprego.
A Argentina, que seguiu isso ao pé da letra, especialmente no governo Menen, desindustrializou-se brutalmente. O país foi destroçado. Muito moderadamente, dentro da ordem, Kirchner não seguiu alguns dos receituários. Diziam que a Argentina ia entrar em falência, mas hoje ela está crescendo 9% ao ano.
Os capitais querem as condições ideais, mas eles querem também o saque. Quando eles não têm as condições ideais, ainda assim continuam saqueando. Quando mais gendarmes forem os governos, melhores são as condições para essa sucção. Soros dizia antes das eleições de 2002 que Lula poderia trazer problemas para o mercado. Recentemente, ele disse ao jornal Valor Econômico que Lula era um fiador do mercado. É a gestação do gendarme.
Uma política econômica que fizesse uma reforma agrária e quebrasse o monopólio do latifúndio teria uma repercussão enorme na política de emprego no Brasil. Um governo que aumentasse significativamente o salário mínimo, de modo que a classe trabalhadora pudesse consumir, também teria forte impacto social.
Num dado momento, a comparação com o passado é importante para ver os níveis de degradação e de piora a que chegamos. O salário mínimo (concebido desde o getulismo e que está até hoje na Constituição de 1988) – prevê que a remuneração suprisse as necessidades do trabalhador e de sua família –incluindo saúde, educação, lazer e alimentação, segundo o Dieese, algo acima de R$ 1,6 mil. Lula está feliz porque o salário mínimo vai aumentar para R$ 380. E a locação de um cômodo numa grande favela brasileira nas cidades brasileiras custa entre R$ 150 e R$ 200…
É preciso uma política que reduza a jornada de trabalho. Não estou dizendo que a medida vai eliminar o desemprego, mas certamente irá minimizá-lo. Nós podemos ter políticas ousadas para minorar as condições trágicas em que vive nossa classe trabalhadora desempregada. Essas políticas seriam geradoras de emprego na medida em que contraditassem essa ordem.
Isso só pode ser feito onde há um governo eleito por força popular ou respaldado em lutas sociais que lhe dão densidade política. Quando foi eleito em 2002, Lula deveria ter anunciado ao FMI que não daria mais para fazer o que Collor e Fernando Henrique fizeram. E o que aconteceu? Ele fez mais do que eles fizeram… É por isso que Bush, FMI e o setor financeiro gostam de Lula e rejeitam Chávez e Morales.
Leia também:
Organização dos trabalhadores diante da nova organização do trabalho
Correntes teóricas marxistas e as transformações do mundo do trabalho
O emprego, tal qual o conhecemos, tem futuro?
Marcio Pochmann – Tenho uma visão muito otimista sobre o futuro do trabalho, ao contrário de toda uma literatura que explora a identificação mais negativa. As possibilidades técnicas são muitas. Se olharmos do ponto de vista da conjuntura internacional, particularmente nos países desenvolvidos, não há o enorme desemprego estrutural de que se fala. Dizem que o assalariamento está com os dias contados. Não é verdade. O assalariamento continua dominando o emprego nos países desenvolvidos. Temos até redução do desemprego em algumas dessas nações.
Acredito que esse quadro vai mudar, assim como mudou no segundo pós-guerra, período em que foi criada uma situação de maior segurança do trabalho. Ela se deveu justamente a um novo entendimento. Tomaram-se medidas que visaram aumentar a inatividade, que foi financiada com recursos públicos. Foi criada toda uma rede que incluía o seguro-desemprego, pensões e aposentadoria. Os governos conseguiram concomitantemente retirar pessoas do mercado e dar garantias àqueles que iam exercer o trabalho.
Acredito que uma sociedade mais civilizada tenderá a caminhar inexoravelmente para essa condição. Qual seria? Aquela que pressupõe a redução do tempo de trabalho e dá garantias àqueles que vão exercê-lo. Estamos falando de uma sociedade cuja intensificação do trabalho é brutal. Alguém pode argumentar que será criada uma sociedade de vagabundos com uma jornada de quatro horas por dia durante apenas três dias por semana. Alto lá!
Trabalhar oito horas hoje sob as novas formas de organização – com computador, Internet, celular etc – chega a ser insano. As novas ferramentas fazem com que você fique plugado 24 horas no trabalho. O empregado vai para casa, sonha com o trabalho, fica com medo de ser demitido… Essa insegurança nos coloca vinculados ao trabalho o tempo todo.
A sociedade industrial não estava preparada para conviver com essa instabilidade e com esses riscos. São desafios que precisamos enfrentar. Precisamos construir uma nova sociabilidade, que não pode continuar sendo ordenada pela disjuntiva neoliberal.
Ricardo Antunes –O emprego regulamentado, contratado, com direitos, como tendência, é mais parte do passado do que do presente, mantida a sociedade na sua lógica atual. Seria muito mais simpático dizer o contrário. É um delírio imaginar que, no capitalismo dos nossos dias, nós possamos ter uma sociedade do pleno emprego. A nossa bandeira não é mais lutar pela sociedade do pleno emprego, mas por uma outra sociedade.
O emprego que a sociedade atual nos reserva é (quase) virtual, desregulamentado, mais intensificado e mais multifuncional – você trabalha por dez. Ele oscila como um pêndulo, como eu digo no meu livro O caracol e sua concha. Cada vez menos homens e mulheres trabalham muito. No outro lado do pêndulo, na superfluidade, cada vez mais temos o trabalho precarizado e o desemprego estrutural.
Algumas questões de fundo são colocadas. Por exemplo: que sociedade nós queremos para o século XXI? É aquela destrutiva, da mercadorização dos bens materiais e imateriais, corpóreos e simbólicos? Uma sociedade em que centenas de milhões continuem vivendo com menos de dois dólares por dia?
Nós queremos uma sociedade, com vida e trabalho dotados de sentidos. Trata-se de uma grande contradição: o trabalho que estrutura o capital, desestrutura a humanidade. Como contrapartida, o trabalho para estruturar humanamente a sociedade, tem que desestruturar o capital. E não há vida dotada de sentido com trabalho desprovido de significado autônomo e auto-determinado.
Vamos preservar o capital ou exercitar o espírito crítico para auxiliar na construção de um novo modo de vida? Nós não sabemos sequer se o século XXI será longevo. Quem pode garantir isso? Não temos mais certeza de nada. Quem poderia imaginar que três aviões poderiam atingir dois símbolos do poder norte-americano – as Torres Gêmeas e o Pentágono?
O capitalismo é em si e por si destrutivo. Ele acumula destruindo força humana que trabalha; ele acumula destruindo forças produtivas que ele torna inoperantes; ele acumula destruindo o meio ambiente e a natureza. Por que Bush não aceita o acordo de Kyoto? Porque o esquema americano não tem como controlar o nível de poluição ambiental que a sua lógica destrutiva impõe. São menos de 5% da população mundial que consome mais de 25% dos recursos energéticos do planeta.
Para quebrar essa destrutividade, o que o mundo do capital fez? Criou um metabolismo social fundado no trabalho necessário mais trabalho excedente, mecanismos necessários para a geração do valor, apropriado pelo capital sob a forma do lucro.
Nós precisamos pensar num imperativo societal pelo meio do qual a sociedade se estruture por um sistema de metabolismo social, em que o trabalho disponível seja imperativo visando a criação de coisas socialmente úteis. É preciso pensar que o tempo disponível para produzir coisas úteis supõe que o trabalho e a vida sejam dotados de sentido. A pergunta que se faz é: na sociedade dos nossos dias, o capitalismo faz com que sua vida seja dotada de sentido dentro e fora do trabalho? Não. Dentro do trabalho, vivemos o estranhamento, o risco e a iminência de sua perda. Fora, não fazemos outra coisa que não seja pensarmos em como nos qualificar mais para não perder o trabalho amanhã. É um circulo vicioso perverso.
O resultado disso são hordas de miseráveis, a destruição ambiental, o aumento da criminalidade, a política do narcotráfico e a lógica belicista, entre outras aberrações. Ou acabamos com esse arcabouço societal destrutivo ou a humanidade não vai vivenciar esse nosso século XXI sem traumas profundos, cujas conseqüências são difíceis até de imaginar.
Jornal da Unicamp, edição 354, de 9 a 15 de abril,
Disponível também em www.unicamp.br/ju