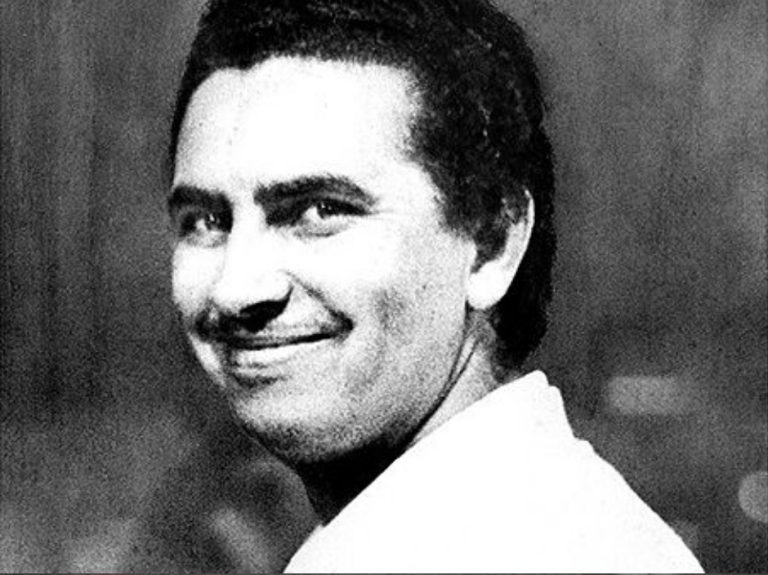Anistia no Brasil
Artigo | As permanências de uma ordem militarizada e as seduções autoritárias no Brasil
43 anos após promulgação da Lei da Anistia no Brasil, sancionada em 1979, artigo analisa herança desta anistia e a relação com o cenário atual do militarismo no Brasil

Por Ana Claudia Tavares, Fernanda Maria Vieira e Mariana Trotta Quintans*
Da Página do MST**
Compreender a permanência de uma estrutura militarizada e o papel das forças armadas no controle da ordem pública no presente nos coloca o desafio de desvelar um passado e as não rupturas com uma estrutura social cuja violência demarca nossas subjetividades e “apresenta-se como uma das instâncias reguladoras das relações sociais. Ao ser praticada pelo próprio Estado – ou por seus braços armados -, o estudo da violência tem realçada sua estreita articulação com os debates sobre democracia e a constituição do Estado de Direito”.1
O golpe de 1964 inaugura o período ditatorial com a imediata repressão aos trabalhadores urbanos e rurais, muitos assassinados, presos e perseguidos políticos. Uma série de chamados Atos Institucionais, editados pelos que tomaram o poder estatal, romperam com a legalidade anterior, instaurando uma espécie de “nova legalidade” autoritária, que justificava as perseguições políticas, as cassações, a instauração de inquéritos militares contra civis, a prisão política dos opositores do regime, entre outras ações repressivas por parte dos agentes estatais.
A caminhada para redemocratização não buscou depurar esse período da ditadura. Não tivemos uma ação de colocar em xeque esse passado, o que possibilita pensar o processo atual de militarização que jamais foi posto em causa na balança para construção de uma democracia. Vivenciamos o paradigma de uma construção histórica que afirma haver uma paz entre passado e presente, nesse aspecto, não há o “acerto de contas” em nossa história.
Por isso mesmo, é comum entre os estudiosos da transição do regime autoritário para o regime democrático no Brasil, a menção à Lei da Anistia de 1979, como um marco inicial de uma longa transição sob tutela militar, que a tornou “lenta, gradual e restrita” (caracterizada como uma transição controlada), em um momento em que a luta pela redemocratização reivindicava uma lei de anistia ampla, geral e irrestrita.
A Lei da Anistia se restringiu a anistiar uma parcela dos perseguidos políticos2 e, ao mesmo tempo, incluiu uma controversa menção a “crimes conexos” aos políticos que também estariam anistiados, o que buscou impedir a responsabilização penal dos militares que haviam cometido crimes contra os opositores do regime. Não sem razão a leitura com relação ao que foi a Lei da anistia se configura mais como uma autoanistia, uma construção dos próprios militares se desabonando dos crimes cometidos no decorrer do golpe empresarial-militar.
As permanências autoritárias, perceptíveis em uma multiplicidade de experiências cotidianas, se manifestam de forma mais integral quando se recupera os projetos acerca da segurança nacional ou pública. A lógica militar sedimentada na noção do inimigo interno, categoria que se modifica diante dos estágios do capital, ontem comunista, hoje, o negro, pobre, favelado, traduzido em traficante.
O que se observa no presente é uma ação ostensiva das forças armadas para controle de movimentos reivindicatórios de movimentos sociais e sindicais, algo que fora apontado já na constituinte diante da manutenção da categoria lei e ordem, cujo conteúdo será preenchido pelo integrante do poder executivo.
As chamadas Operações de Garantias da Lei e da Ordem decretadas pela Presidência da República vêm sendo usadas como forma de controle social penal sobre os movimentos reivindicatórios, contrariando inclusive a determinação das normas que regulamentarão o art. 142 da Constituição, impondo o uso das forças armadas quando houver o esgotamento e a impossibilidade do resguardo à integridade física das pessoas e dos patrimônios.
Por suposto, essa racionalidade não se instaurou com a ditadura empresarial-militar. Como nos lembra Ana Luíza Pinheiro Flauzina3 (2017) ao analisar as políticas de segurança e o genocídio do povo negro, nos alerta para o imemorial papel do racismo, que é, desde o período colonial, constitutivo de nossa formação. Trata-se, portanto, de perceber a permanência histórica da desconstrução do negro que legitima, no limite, sua eliminação.
O passado não depurado, não compreendido a contrapelo, como nos fala Walter Benjamin, volta-se com peso das opressões e dominações que lhes são subjacentes. Não colocamos em xeque os assassinatos, as torturas impostas pela ditadura empresarial-militar. Não conseguimos retirar na constituinte o papel de intervenção das forças armadas no cotidiano social e assistimos massacres como o recente caso da Chacina do Jacarezinho, uma das mais brutais operações policiais.
Assistimos a uma escalada autoritária de um governo cuja presidência encontra um defensor público de torturadores, uma base de aliados do campo da segurança, efetivando uma bancada da bala, aliada com a ala religiosa mais conservadora e apoio dos setores agrários que construíram seu domínio na negação do direito à terra para milhares de famílias sem terra, indígenas e quilombolas.
Romper com essa estrutura autoritária, com a lógica militarizada e com uma estrutura punitiva que se legitima no senso comum de uma guerra às drogas é urgente e o caminho necessário para efetivação de uma democracia em nosso país.
1 ALMEIDA, Suely Souza de. Violência e subjetividades. Trabalho apresentado no XVII Seminário Latino americano de Escuelas de Trabajo Social, Lima, Peru, 2001, pág. 2. Acessível em https://negrasoulblog.files.wordpress.com/2016/04/violc3aancia-e-subjetividades-sueli-almeida.pdf
2 Excluiu os chamados “crimes de sangue” (contra a vida).
3 FLAUZINA, Ana Luiza Pinheiro. Corpo negro caído no chão. O sistema penal e o projeto genocida do Estado brasileiro. Brasília, Brado negro, 2017.
* Ana Claudia Tavares, Fernanda Maria Vieira e Mariana Trotta Quintans são professoras na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
**Artigo publicado originalmente em 2021